O tempo, ao qual os adivinhos perguntavam o que ele ocultava em seu seio, não era, certamente, experimentado nem como homogêneo, nem como vazio. Quem mantém isso diante dos olhos talvez chegue a um conceito de como o tempo passado foi experienciado na rememoração: ou seja, precisamente assim. Como se sabe, era vedado aos judeus perscrutar o futuro. A Torá e a oração, em contrapartida, os iniciavam na rememoração. Essa lhes desencantava o futuro, ao qual sucumbiram os que buscavam informações junto aos adivinhos. Mas nem por isso tornou-se para os judeus um tempo homogêneo e vazio. Pois nele cada segundo era a porta estreita pela qual podia entrar o Messias.Walter Benjamin
Ao expandir essa noção kantiana, Agamben incorpora a metodologia de M. Foucault, em especial a genealogia, para propor uma análise das formações discursivas que não se limita a identificar uma origem cronológica ou fixa. Ao contrário, a arqueologia filosófica investiga as estruturas subjacentes que possibilitam a emergência de discursos e práticas sociais em diferentes contextos históricos. Nesse sentido, a abordagem arqueológica não visa apenas recuperar o que foi perdido no tempo, mas, sim, explorar como o passado condiciona o presente, revelando as camadas ocultas de sentido que continuam a operar nas formações discursivas atuais. Foucault, ao tratar da arqueologia do saber, introduz o conceito de “a priori histórico”, um tipo de investigação que busca desvelar as condições que tornam possíveis os saberes e práticas, sem recorrer a uma narrativa de causalidade linear. Em Agamben, essa noção é expandida para abarcar não apenas a história do conhecimento, mas a história do próprio Ser como temporalidade aberta e indeterminada.
Nesse ponto, M. Heidegger torna-se uma figura-chave no desenvolvimento do conceito de arqueologia filosófica em Agamben, especialmente no que se refere à sua concepção do tempo e da hermenêutica. Em Ser e Tempo, Heidegger propõe que o tempo não deve ser visto como um fluxo cronológico de eventos, mas como uma estrutura existencial que condiciona a própria compreensão humana. O conceito de “círculo hermenêutico", onde o presente e o passado se interrelacionam de maneira contínua e recíproca, é fundamental para entender a arqueologia filosófica como um método que explora as condições de emergência dos discursos sem buscar uma origem definitiva. Ao contrário da linearidade histórica, a arqueologia e a hermenêutica se movem em um ciclo onde o passado é constantemente reinterpretado à luz do presente, e o presente é sempre informado por uma pré-compreensão do passado. Essa abordagem temporal complexa ressoa diretamente no método arqueológico de Agamben, que também se opõe à concepção cronológica da história e busca, em vez disso, as condições que permitem que os discursos e práticas adquiram significado no presente.
W. Benjamin, por sua vez, é outra figura central na análise sobre o tempo, particularmente por sua concepção escatológica e revolucionária da história. Em suas Teses sobre o Conceito de História (1940), Benjamin articula uma crítica feroz à visão iluminista do tempo, propondo, em seu lugar, a noção de Jetztzeit (tempo-agora), na qual cada momento presente carrega o potencial de interromper a continuidade temporal e redimir o passado. Para Benjamin, o passado não é algo encerrado ou inalterável, mas um campo de fragmentos que podem ser redimidos através de uma intervenção escatológica no presente. Seu famoso “Anjo da História" ilustra essa visão de uma história composta de catástrofes e ruínas, mas que pode ser resgatada no presente através de uma redenção messiânica. Essa concepção de história é profundamente escatológica, pois vê no presente o potencial para interromper a linearidade e trazer à tona uma nova leitura do passado.
A influência de Benjamin sobre Agamben é evidente na maneira como este articula sua visão da arqueologia filosófica. Agamben herda a noção benjaminiana de um tempo que não é meramente sequencial, mas escatológico, onde cada momento presente carrega consigo a possibilidade de transformação e ressignificação do passado. O método arqueológico de Agamben, portanto, lida com formações discursivas que não são estáticas, mas abertas à reinterpretação contínua. Esse processo se dá a partir de uma interrupção na continuidade histórica, permitindo que as estruturas ocultas de sentido sejam trazidas à luz e ressignificadas no presente.
Aplicar essa metodologia ao estudo das formações discursivas religiosas, como o calvinismo, revela uma nova dimensão interpretativa. A análise arqueológica do calvinismo não se limita a identificar as doutrinas teológicas centrais, como a predestinação ou a soberania divina, mas explora as condições que permitiram que essas ideias emergissem e se consolidassem em determinados contextos históricos. O calvinismo, assim, é visto como uma formação discursiva que responde a uma série de crises e problemas sociais e políticos, refletindo e reforçando determinadas relações de poder. A doutrina da predestinação, por exemplo, pode ser lida não apenas como um princípio teológico, mas como uma resposta discursiva a ansiedades sobre a salvação e a responsabilidade moral em um momento de intensa transformação social e política durante a Reforma Protestante.
Essa perspectiva escatológica e arqueológica do calvinismo também revela sua capacidade de rearticulação ao longo da história. No Brasil contemporâneo, por exemplo, o calvinismo foi apropriado por certos segmentos do protestantismo evangélico e entrelaçado com discursos conservadores e neoliberais. Por outro lado, também tem sido reapropriado por correntes progressistas. A arqueologia filosófica aplicada a esse fenômeno mostra como o calvinismo, enquanto formação discursiva, foi ressignificado em novos contextos, mantendo certos elementos centrais de sua tradição (como a ética do trabalho e a predestinação), mas os adaptando a novas realidades sociopolíticas. Assim, a arqueologia filosófica ilumina as condições de possibilidade que permitem que o calvinismo continue a ser uma formação discursiva relevante e ativa, em vez de uma doutrina fixa e encerrada no passado.
AGAMBEN, Giorgio. Signatura Rerum: Sobre o Método. São Paulo: Editora Boitempo, 2019.
BENJAMIN, Walter. Teses sobre o conceito de história. In: LÖWY, Michael. Walter Benjamin: aviso de incêndio: uma leitura das teses “Sobre o conceito de história”. São Paulo: Boitempo, 2005.
FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2012.
HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo. Petrópolis: Vozes, 2015.
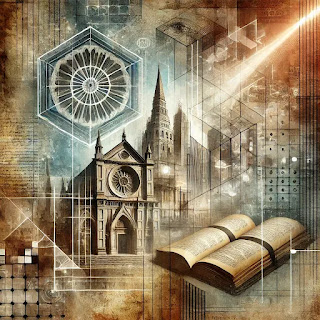


Nenhum comentário:
Postar um comentário