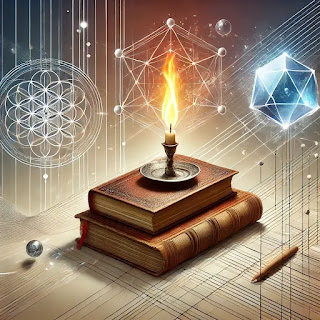A teoria das assinaturas proposta pelo filósofo Giorgio Agamben em Signatura Rerum articula uma abordagem teórico-arqueológica que examina como certos “marcadores” ou signaturas invisíveis estruturam o saber e o ser, orientando o que se torna visível e inteligível. Inspirado na arqueologia foucaultiana, Agamben expande o conceito de dispositivo ao integrar uma camada de intervenção que configura (e regula) os discursos e práticas em níveis epistemológicos e ontológicos. Para ele, as signaturas são mais do que marcas externas; são índices ocultos que exercem uma função estruturante, organizando o que pode ser visto e conhecido. Na esfera epistemológica, as signaturas atuam como limites que condicionam o campo de percepção e conhecimento, determinando o que é interpretável e experienciável. No nível ontológico, elas condicionam modos de vida e formas-de-ser ao inscreverem os indivíduos em uma rede de significados e práticas que escapam à visibilidade imediata, mas que regulam suas existências em níveis profundos e normativos.
Agamben aplica a teoria das assinaturas ao longo de sua obra para desconstruir dispositivos de controle e normatização contemporâneos, explorando a relação entre o visível e o invisível e revelando o potencial subversivo das signaturas. Em O Reino e a Glória, por exemplo, ele examina como o poder soberano e a economia teológica da governança são regulados por signaturas que estruturam o campo da biopolítica (e definem os limites de inclusão e exclusão na sociedade). O conceito de oikonomia, central para sua argumentação, refere-se a uma economia de governo que transcende a organização material para abranger uma regulação providencial dos visíveis e invisíveis, onde o controle é exercido de maneira indireta e, por isso, mais profunda e duradoura. Agamben argumenta que as signaturas operam dentro desse sistema econômico como dispositivos de autenticação e regulação, que, ao serem desvelados, podem ser reconfigurados, permitindo uma resistência às normas e dispositivos que controlam os corpos e subjetividades. Esse potencial subversivo das signaturas é fundamental na crítica agambeniana, pois ao expor a função reguladora das signaturas, é possível imaginar novas configurações do saber e do ser, libertas dos dispositivos normativos e de controle.
A análise das signaturas em Agamben, ao ser colocada em diálogo com a noção de “marcas” (notae) utilizada por João Calvino nas Institutas da Religião Cristã (1559), revela tanto afinidades quanto divergências fundamentais. Calvino, ao definir as marcas da igreja verdadeira, utiliza o conceito de maneira normativa e reguladora, em um esforço para assegurar a continuidade, autenticidade e unidade da fé reformada. Em um período de intensas disputas teológicas e fragmentação religiosa, as marcas servem como dispositivos estabilizadores e normativos que identificam a verdadeira igreja e diferenciam os fiéis autênticos dos desviantes. Para Calvino, as marcas não são meros sinais externos, mas garantias de autenticidade e pertencimento espiritual. Ele identifica a pregação pura da Palavra e a administração correta dos sacramentos como as principais marcas da igreja, afirmando que “onde quer que vejamos a Palavra de Deus puramente pregada e ouvida e os sacramentos administrados segundo a instituição de Cristo, ali, sem dúvida, está uma igreja de Deus” (Institutas, IV.1.9). Essas marcas, portanto, não são apenas critérios teológicos; elas representam dispositivos que mediam a relação entre o visível e o invisível, conferindo autenticidade à comunidade cristã ao garantir a presença e a ação de Deus dentro da comunidade dos fiéis.
Imagem: DALL-E
Além disso, Calvino aborda a ideia de marca no contexto do “selo do Espírito”, que autentica e confirma a fé dos crentes. Em Efésios 1:13, ele se refere à passagem em que Paulo afirma que “no qual também vós, tendo crido, fostes selados (ἐσφραγίσθητε) com o Espírito Santo da promessa” (Nestle-Aland 28ª edição), interpretando este selo como uma marca espiritual que transcende o entendimento racional e autentica a fé e a reconciliação dos fiéis com Deus. Para Calvino, o selo do Espírito opera como uma confirmação interior e espiritual, um testemunho que assegura a comunhão com Deus e estabelece uma identidade cristã autêntica e estável. Em suas palavras, é o “testemunho interior do Espírito, o qual sela as promessas de Deus em nossos corações” (Institutas, III.2.7), uma presença que organiza a experiência de fé e transforma o crente, indo além de uma simples declaração ou adesão intelectual.
Os sacramentos, para Calvino, funcionam como outras marcas importantes, sendo “sinais e selos” visíveis de uma realidade espiritual que distingue e autentica os fiéis como membros do corpo de Cristo. No batismo e na eucaristia, ele vê um tipo de marca que age não apenas como rito, mas como um selo de pertencimento e de identidade espiritual, onde os fiéis manifestam publicamente sua fé e recebem a confirmação da promessa divina. Em suas palavras, “os sacramentos foram instituídos por Deus como marcas de nossa comunhão em Cristo e, por assim dizer, sinais distintivos de nossa fé cristã” (Institutas, IV.14.1). Esse entendimento sacramental reforça a ideia de que as marcas calvinistas operam como dispositivos normativos que, além de autenticar, delimitam a identidade e a coesão da comunidade cristã frente ao mundo. Esses dispositivos, assim como as signaturas em Agamben, regulam a relação entre o visível e o invisível, funcionando como mediações que traduzem a realidade espiritual em práticas visíveis e concretas.
Em sua reflexão sobre a teoria das assinaturas, Agamben também examina o conceito de sacramento em Santo Agostinho, trazendo à tona o “caráter indelével” que marca o indivíduo por meio de certos rituais, como o batismo, e que transcende a prática visível. Agostinho, em sua polêmica contra os donatistas, argumenta que o sacramento opera independentemente da disposição espiritual do ministro (ou do receptor), apresentando o conceito de baptisma sine spiritu, ou batismo sem espírito, como uma marca que permanece no indivíduo ainda que a graça não seja conferida. Para Agamben, essa indelével marca sacramental é uma signatura que age como um dispositivo de autenticação espiritual, funcionando em um nível que escapa ao controle individual, mas que organiza a relação entre o visível e o invisível na vida religiosa. Tal como as signaturas, o caráter sacramental em Agostinho opera como uma camada ontológica que regula e autentica a subjetividade cristã, configurando o ser e o pertencimento sem depender de uma adesão moral consciente.
A análise de Agamben sobre o sacramento agostiniano ilumina as marcas calvinistas sob uma nova luz, ao explorar como o caráter sacramental opera simultaneamente como símbolo e como uma inscrição reguladora da identidade. Assim como Calvino delineia as marcas da igreja verdadeira para assegurar a autenticidade da comunidade de fé, Agostinho concebe o batismo como uma marca que autentica o pertencimento à fé, independentemente da experiência espiritual imediata. Para Agamben, essa marca sacramental se aproxima do funcionamento das signaturas ao condicionar a identidade cristã através de uma dimensão que ultrapassa o visível e que se inscreve no indivíduo de forma estrutural e permanente. Esse entendimento sugere que o caráter sacramental em Agostinho e as marcas em Calvino não são apenas dispositivos de autenticação, mas camadas que moldam a vida religiosa, criando um campo de regulação onde a autenticidade cristã é mediada pela conformidade a normas espirituais que, ainda que invisíveis, possuem um efeito normativo profundo.
A dialética entre a marca sacramental e as signaturas agambenianas permite, portanto, uma crítica mais robusta dos dispositivos normativos religiosos, ao propor que as marcas, ao invés de meramente estabilizarem a fé, podem também atuar como estruturas de controle. Na perspectiva de Agamben, essas marcas sacramentais operam como um sistema oikonomico de governança espiritual que legitima a subjetividade religiosa, mas que também pode aprisioná-la em normas invisíveis. Desse modo, a comparação entre Agostinho e Calvino sob a ótica das signaturas permite imaginar uma experiência cristã que transcenda o controle normativo desses dispositivos, abrindo espaço para uma vivência espiritual mais inclusiva e plural, onde a autenticidade se realiza não na conformidade, mas na liberdade de modos de ser. Assim, ao desvendar a função reguladora das signaturas e sacramentos, Agamben oferece um caminho para reimaginar a prática cristã e suas marcas, libertando-as dos limites de uma governamentalidade espiritual restritiva e permitindo a emergência de novas formas de vida religiosa.
A análise do conceito de oikonomia (οἰκονομία) em Agamben, ao ser aplicada ao contexto das marcas calvinistas, permite uma compreensão ampliada da função dos sacramentos e das marcas de autenticidade cristã. Agamben descreve a oikonomia teológica como uma “máquina providencial” que regula o visível e o invisível, estruturando o campo das subjetividades por meio de dispositivos que moldam as práticas humanas de maneira difusa e indireta. No contexto calvinista, os sacramentos operam de modo semelhante ao estabelecer uma normatividade que, ainda que discreta, autentica a vida cristã. Agamben sugere, contudo, que esses dispositivos de autenticação, ao serem revelados como signaturas reguladoras, podem inadvertidamente funcionar como estruturas de controle. Se para Calvino essas marcas são essenciais para a coesão e preservação da ortodoxia, a oikonomia de Agamben propõe uma crítica a essa estrutura, destacando como ela também pode moldar a experiência da fé em um campo normativo de controle onde a autenticidade é regulada de maneira invisível.
Essa perspectiva crítica da oikonomia em Agamben aprofunda a análise das marcas calvinistas ao questionar o modo como a governamentalidade espiritual, ao autenticar a subjetividade religiosa, limita a vivência da fé em conformidade com práticas normativas. Enquanto Calvino concebe as marcas como dispositivos que asseguram autenticidade e ortodoxia dentro da comunidade cristã, Agamben sugere que essas mesmas estruturas podem aprisionar a fé em moldes de obediência ritual. Assim, o conceito de baptisma sine spiritu em Agostinho se aproxima da visão agambeniana das signaturas, ao operar como uma marca que, mesmo sem a correspondência direta de fé, condiciona o sujeito em uma rede de pertencimento inescapável, estabelecendo uma relação de autenticação independente da experiência interior da fé. A interpretação de Agamben ilumina, portanto, uma tensão dialética entre a autenticidade como conformidade ritual e uma autenticidade que se realiza na liberdade dos modos de ser.
Esses elementos tornam possível imaginar uma experiência cristã que transcenda o controle normativo, ao reinterpretar as marcas sob a ótica da teoria das assinaturas. Para Agamben, ao desvendar a função reguladora das signaturas e dos sacramentos, é possível abrir a prática cristã para uma vivência mais plural, onde a autenticidade se concretiza menos em padrões visíveis e mais em uma liberdade de formas-de-vida que não dependem exclusivamente da adesão normativa. O diálogo desenvolvido neste texto oferece, então, uma crítica que não pretende destruir a estrutura das marcas, mas libertá-las das limitações impostas pela governamentalidade. Isso permite vislumbrar novas configurações de autenticidade cristã, capazes de resistir ao fechamento doutrinário e de se abrir para a diversidade e singularidade espiritual de cada indivíduo.
Referências
AGAMBEN, Giorgio. O Reino e a Glória: uma genealogia teológica da economia e do governo. Belo Horizonte: Autêntica, 2011.
AGAMBEN, Giorgio. Signatura Rerum. São Paulo: Boitempo, 2019.
CALVINO, João. A Instituição da Religião Cristã – Tomo 1: Livros I e II. São Paulo: Editora Unesp, 2008.
CALVINO, João. A Instituição da Religião Cristã – Tomo 2: Livros III e IV. São Paulo: Editora Unesp, 2009.